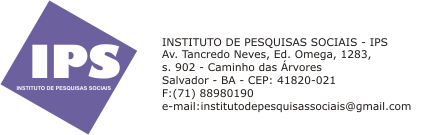Dos estados-nação ao poder do império no século XXI
Ari Soares Lima*
Manuel Castells, em seu livro O Poder da Identidade, Vol.II (2008), esclarece acerca da teoria do Estado, dizendo que o debate recorrente por décadas, tem sido entre institucionalismo, pluralismo e instrumentalismo em suas diferentes versões. Dentro da tradição Weberiana, os institucionalistas atêm-se à autonomia das instituições do Estado. Os pluralistas, por sua vez, descrevem a estrutura e evolução do Estado como fruto de uma série de influências sobre a própria (re) formação do Estado, de acordo com a dinâmica de uma sociedade civil plural, em uma validação constante de um processo constitucional.
Já os seguidores do instrumentalismo, marxismo ou historicismo vêem o Estado como expressão de atores sociais que, em defesa de seus interesses, conquistam poder de dominação como resultado de lutas, alianças e transigências. Contudo, segundo Giddens, Guehenno e Held, apud Castells (2008), em todas as escolas de pensamento, a relação entre Estado e a sociedade, e, portanto a teoria do Estado, está contemplada no contexto da nação, tendo o Estado-nação como sua estrutura de referência.
O Estado-nação, segundo Castells (2008), tem sua origem a partir do Estado, e não da nação - definida culturalmente e territorialmente. Esta afirmação acaba por levantar uma hipótese; a de que a gênese da crise do Estado pode estar em sua própria constituição, pois na imposição da homogeneidade, instituída com base na negação de identidades históricas em prol de uma identidade que melhor atendesse aos interesses dos grupos sociais dominantes, uma maioria não tem, e nunca teve representatividade. Uma vez estabelecida a nação, efetivamente sob controle territorial do Estado, a história compartilhada de ambos induz à formação de vínculos socioculturais entre seus membros, bem como a união de interesses econômicos e políticos. Embora, haja uma representação desproporcional dos interesses sociais, culturais e territoriais do Estado-nação, que acaba por descaracterizar as instituições nacionais em função dos interesses das elites que dão origem a esse Estado e sua política de alianças, abrindo caminho para crises institucionais e a própria “falência” dos Estados-nação (Castells, 2008).
Essa diferenciação territorial das instituições do Estado responde em parte, segundo Castells (2008), o porquê dos Estados, muitas vezes, serem governados sob interesses de uma minoria, embora não estejam fundamentados necessariamente na repressão. Aos subordinados sobram as instituições administrativas de poder hierárquico mais baixo dentro do Estado que, também, encontra-se dividido em classes. Os esforços para restaurar essa legitimidade do Estado-nação por meio da descentralização de poder administrativo, delegando-o às esferas regionais e locais, estimulam as “tendências centrífugas” ao trazer o cidadão para a órbita do governo, aumentando, porém, a indiferença destes em relação ao Estado.
Assim, enquanto o capitalismo global prospera e demonstra seu vigor em todo o mundo, o Estado-nação, que tem sua formação historicamente situada na Idade Moderna, parece estar perdendo seu poder, contudo não, ressalta Castells, sua influência. De fato, parece que o desfio lançado a soberania dos Estados-nação está na incapacidade de navegar por “águas tempestuosas e desconhecidas”, entre o poder das redes globais e o desafio imposto por identidades singulares. O Estado-nação sozinho não mais apreende o tempo histórico mediante apropriação da tradição e (re) construção da identidade nacional. O desafio lançado esta acerca do tempo e espaço que agora são sobrepujados pelos fluxos globais de capital, produtos, serviços, tecnologia, comunicação e informação, representando, sobretudo uma ameaça ao Estado do bem-estar social, um dos principais componentes das políticas dos Estados-nação dos últimos 50 anos, e provavelmente o principal sustentáculo da legitimidade desse Estado nos países industrializados (Castells, 2008).
Para Bobbio (2009), a definição de Estado contemporâneo envolve numerosos problemas, derivados, o complexo social, e de depois, em captar seus efeitos sobre a racionalidade interna do sistema político. Nesse sentido, o autor fala de uma abordagem que se revela extremamente útil para a análise dos problemas subjacentes ao desenvolvimento do Estado contemporâneo; a da “difícil coexistência das formas do Estado de direito com os conteúdos do Estado social”.
Os direitos fundamentais representam as tradicionais tutelas das liberdades burguesas: liberdade pessoal, política e econômica, funcionando basicamente como uma barreira à intervenção do Estado. Pelo contrário, os direitos sociais representam maior participação popular no poder político e no sistema de distribuição da riqueza social produzida. Se os direitos fundamentais são a garantia de uma sociedade burguesa separada do estado, os direitos sociais representam por outro lado, a via por onde a sociedade entra no Estado, modificando-lhe a estrutura formal (Bobbio, 2009). “A forma do Estado oscila, assim, entre a liberdade e a participação” (E. Forsthoff, 1973 apud Bobbio, 2009).
A partir da segunda metade do século XIX, uma gradual integração do Estado político com a sociedade civil, acabou por alterar a forma jurídica do Estado, os processos de legitimação e a estrutura da administração. Houve também significativa expansão do capital, através da formação de grandes concentrações, que contaram com ajuda de bancos, mesmo que não se fundissem com eles, revelando uma tendência ao surgimento do capital financeiro, que une o capital industrial, comercial e bancário. Essa presença de fortes concentrações industriais converteu-se na presença de grupos de pressão política e econômica, modificando a relação Estado-Economia na constituição do capital financeiro, não podendo mais o Estado consistir na estranheza da política ao intercâmbio do mercado, como ficou caracterizado o século XVIII, regulado exclusivamente pela “mão invisível” de Adam Smith (Bobbio, 2009).
O Paradigma mudou: a política econômica do Estado interfere agora diretamente, não só através de medidas protecionistas em relação ao capital monopólico, mas também nas manobras do Banco Central e mediante a criação de infra-estrutura para a valorização do capital. A estrutura material altera, já que a um Estado que antes contribui, ao longo de todo o século XVIII, para a formação da forma-mercado, mas também do trabalho, do dinheiro e da terra, da estrutura da livre-troca (K. Polany apud Bobbio, 2009), sucede agora um Estado que intervém ativamente dentro do processo de valorização capitalista. Essa mudança não só atinge a política econômica, mas principalmente as funções tradicionais do Estado de direito.
Para Hardt e Negri (2004. 2005), o poder hegemônico dos Estados-nação, consolidado, sobretudo durante no século XIX e primeira metade do século XX, representado, em sua máxima, pelo poder imperial dos EUA e de algumas nações européias, esta em declínio. A mudança ou ruptura da produção capitalista contemporânea e das relações globais de poder revela o atual projeto capitalista de unir poder econômico ao poder político, para materializar uma nova ordem convenientemente capitalista, a ordem do Império.
Em termos constitucionais, os processos de globalização já não são apenas um fato, mas também uma fonte de definições jurídicas que tende a projetar uma configuração única e supranacional de poder político. O que era conflito e competição entre as diversas potências imperialistas, foi substituído pela idéia de um poder único que está por cima de todas elas, que as organiza numa estrutura unitária e as trata de acordo com uma noção de direito pós-colonial e pós-imperialista. A problemática do Império é determinada, portanto, em primeiro lugar, por um fato singular: a existência de uma ordem mundial. Uma ordem expressa como uma formação jurídica, um processo de constituição que acabar por definir as categorias jurídicas centrais e, em particular, o processo de longa transição do direito Soberano de Estados-nação (direito internacional) para as primeiras configurações globais pós-modernas do direito imperial. O nascimento das Nações Unidas (1945) no fim da Segunda Guerra Mundial consolidou e estendeu essa nova ordem jurídica internacional, em desenvolvimento desde a Liga das Nações (1919), ou seja, um novo centro de produção normativa que hoje desempenha papel jurídico soberano através de suas agências administrativas em praticamente todo o mundo (Hardt e Negri, 2004).
Assim, para Hardt e Negri (2004. 2005) o ponto de partida para o estudo do Império é uma nova noção de direito, ou melhor, um novo registro de autoridade e um projeto original de produção de normas e de instrumentos legais de coerção que fazem valar contratos e resolvem conflitos. Essas transformações jurídicas apontam, assim como escreve Bobbio (2009), com efeito, para mudanças na constituição material da ordem e de poder mundiais uma noção dos processos totalizantes do Império.
A mudança de paradigma é definida pelo reconhecimento de que um só poder estabelecido, superdeterminado com relação aos Estados-nação e relativamente autônomo é capaz de funcionar como centro da nova ordem mundial, exercendo sobre ela uma norma efetiva e, caso necessário, coerção em uma lógica estrutural, às vezes imperceptível, mas que se efetiva e se move a todos os atores da ordem global. O Império é formado com base na força, mas com base na capacidade de mostrar a força como algo a serviço do direito e da paz. Conflitos e crises fazem avançar o processo de integração e demandam uma maior autoridade central. O novo aparelho jurídico apresenta-se em sua figura imediata como uma ordem global, uma justiça e um direito que, ainda virtuais, são aplicados em nós. Somos forçados a nos sentir participantes desta evolução e somos chamados a assumir responsabilidade por aquilo em que ela se tornará (ordem global) dentro desse contexto. Nossa cidadania, como nossa responsabilidade ética, está situada dentro dessas novas dimensões, nosso poder e impotência são medidos aqui. À maneira Kantiana, nossa disposição moral interna, quando confrontada e testada na ordem social, tende a ser determinada pelas categorias éticas, políticas e jurídicas do Império. O caráter nacional de valores, os abrigos atrás dos quais eles apresentavam sua substância moral, os limites que protegem contra a exterioridade invasora – tudo isso desaparece. No Império, a ética, a moralidade e a justiça ganham novas dimensões. As grandes corporações transnacionais constroem o tecido conectivo fundamental do mundo biopolítico.
As atividades das corporações já não são definidas pela imposição de comando abstrato e pela organização de simples roubo e de permuta desigual. Mas mais propriamente, elas estruturam e articulam territórios e populações, o que tende a fazer dos Estados-nação meros instrumentos de registro dos fluxos de mercadorias, capital e populações (Hardt e Negri, 2005).
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BOBBIO, Norberto. Dicionário de Política. Norberto Bobbio, Nicola Matteucci e Gianfranco Paquino; Tradução de Carmem C, Verriele et ai.; Coord. trad. João Ferreira e Luis Guerreiro Pinto Cacais. – Brasília: Editora Universidade de Brasília, 13ª Ed., 2007, 2008, 2009 (reimpressão). Vol. 1: 674 p. (total: 1.330 p.)
CASTELLS, Manuel. O Poder da Identidade. A era da informação: economia, sociedade e cultura. Volume 2. Tradução de Klauss Brandini Gerhardt. São Paulo: Editora Paz e Terra, 2009.
HARDT, Michael. NEGRI, Antonio. Império. Tradução de Berilo Vargas. 6ª ed. Rio de Janeiro: Editora Record, 2004.
HARDT, Michael. NEGRI, Antonio. Multidão: Guerra e democracia na era do Império. Tradução de Clóvis Marques. Rio de Janeiro: Editora Record, 2005.
*Publicado no Boletim do IPS de Dezembro de 2010
**Bacharel em Turismo, mestrando em Desenvolvimento Urbano e Regional na UNIFACS, membro do IPS